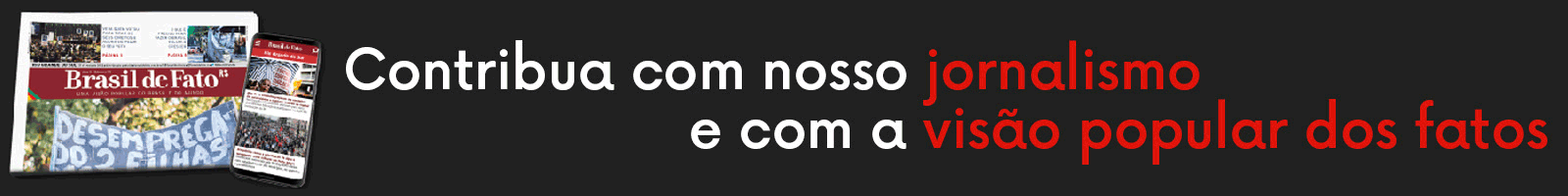O mercado de trabalho por aplicativo – ou uberização do trabalho – explodiu no Brasil, durante a pandemia da covid-19. Esta modalidade de trabalho teve início, em junho de 2010, na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Chegou em terras brasileiras em 2014. A primeira cidade a adotá-la foi o Rio de Janeiro.
Rapidamente se espalhou pelo país. Atrás do aplicativo (app) de transporte da norte-americana Uber, vieram os de comida, de entregas e de compras. Hoje existem cerca de 1,27 milhão de pessoas trabalhando como motoristas e outras 385 mil como entregadores para aplicativos no Brasil.
:: Uberização traz novo controle dos modos de vida e de luta dos trabalhadores, diz pesquisadora ::
O dado é de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. O estudo mapeou o perfil desses trabalhadores, levando em conta questões como raça, renda e tempo de jornada, com base em informações cedidas pelos próprios apps – 99, Uber, iFood, Zé Delivery e Amazon. Entre os motoristas, 95% são homens, dos quais 62% declaram-se negros ou pardos, e têm em média 39 anos. Já entre os entregadores, 97% são homens, dos quais 68% se declaram negros ou pardos, com idade média de 33 anos.
Com a facilidade que supostamente viria pelo trabalho independente já que estavam sendo chamados de microempresários, donos do seu próprio nariz e horário, aos poucos grande parte dos uberizados caiu na realidade. Greves e manifestações ainda se espalham pelas cidades onde o serviço por aplicativos é utilizado.
Quanto à jornada, a maioria dos motoristas trabalha em média entre 22 e 31 horas semanais, enquanto entregadores acumulam entre 13 e 17 horas por semana – há variação porque muitos utilizam os apps como complemento de renda. Alguns trabalham mais porque dependem disso para sobreviver e outros nem tanto. Para os que trabalham 40 horas semanais, o estudo estimou a renda entre R$ 2,9 mil e R$ 4,7 mil para os motoristas e entre R$ 1,9 mil e R$ 3 mil para os entregadores. Este novo mercado de trabalho, com todas as suas particularidades – raros direitos, muitos deveres, excesso de jornadas de trabalho – entrou na agenda do governo Lula para buscar uma saída satisfatória para os trabalhadores.
Terceirização ocorre desde o final da década de 1960

A terceirização do trabalho se tornou uma grande aliada para empresas e uma inimiga da classe trabalhadora / Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
Antes da uberização, porém, a terceirização é que comandava o trabalho precário e explorado, com poucas garantias e direitos. Este tipo de ocupação ocorre desde o final da década de 1960 do século passado. Ela começou no setor público e foi se ampliando para o setor privado.
A regularização deste modelo de serviço veio no ano de 1974, com a Lei 6.019/74, mas o reconhecimento pelos tribunais trabalhistas aconteceu só em 1986, permitindo legalmente a prática. Já em 2017, a Lei do Trabalho Temporário, no governo Michel Temer, foi a que regulou tanto o trabalho temporário quanto os serviços terceirizados.
A modalidade de trabalho terceirizado se aprofundou no Brasil com a aprovação da lei 4.302/1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando foi decidida pela liberação para todas as atividades das empresas.
A forma de trabalho exige um contrato firmado entre a empresa tomadora e a empresa terceirizada, exigindo-se dela registros na Receita Federal através de CNPJ e na Junta Comercial. Esta forma de contratação contribuiu fortemente para a redução de salários, a falta de garantias, por exemplo. Criou, é verdade, empregos, mas de baixa qualidade, principalmente na área de serviços, e com baixa remuneração.
Em 2019 o decreto 10.060 regulamentou a lei de 1974 alterando diversos pontos, como o artigo 18 que relata: “a empresa tomadora de serviços ou cliente exercerá o poder técnico, disciplinar e diretivo sobre os trabalhadores temporários colocados à sua disposição, de modo a permitir a subordinação direta pela tomadora de serviços nos casos de terceirização em trabalho temporário, impossibilitando o vínculo de emprego entre eles”.
A terceirização do trabalho se tornou uma grande aliada para empresas e uma inimiga da classe trabalhadora. Hoje, indústrias, comércio, serviços e condomínios utilizam largamente está modalidade. Emília Santos da Silva faz serviços gerais em um prédio da avenida Timóteo, em Porto Alegre, e não está satisfeita com tudo isso. Ganha salário mínimo de uma terceirizada, mais transporte e vale-refeição e trabalha oito horas por dia.
“Trabalho demais, limpo todo o prédio de sete andares e a cada dia aumentam tarefas. Pouca gente respeita a gente. Os patrões têm um bom contrato e o repasse para nós é o mínimo. Isso chamam de trabalho decente? Nunca”, conclui.
Passam de 20 milhões os terceirizados no país
Conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) havia 1,8 milhão de terceirizados formais no Brasil em 1995, número que chegou a 4,1 milhões em 2005 e a 12,5 milhões em 2014. Hoje passam de 20 milhões.
“O mais grave de tudo é a terceirização da atividade-fim. Ela potencializa o trabalho escravo, a exploração da mão de obra e a precarização. Cabe a nós revogar isso. De cada dez trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão, nove são terceirizados”, disse o senador gaúcho Paulo Paim (PT) em 2018. Mesmo assim, o Senado aprovou a lei, depois declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2020.

Marcio Pochmann afirma que a universalização da terceirização aprovada por deputados e senadores é a uberização da força de trabalho / Rede Brasil Atual
Para o economista, professor, pesquisador e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Marcio Pochmann, a universalização da terceirização aprovada por deputados e senadores é a uberização da força de trabalho. “Tudo isso faz parte do projeto da nova elite agroexportadora, que mantém a desigualdade, em contraposição às propostas fragmentadas da parcela da sociedade que gravita em torno dos serviços.”
Márcio Pochmann lembra que no fim dos anos 1980, início dos 1990, da recessão do governo Collor e da abertura comercial, expuseram o parque produtivo brasileiro à competição internacional sem condições adequadas. “Isso culminou em uma reação dos empresários para reduzir custos. A terceirização permitia às empresas concentrar-se nas atividades finalísticas e repassar as atividades-meio, fugindo do modelo fordista (montadora Ford dos Estados Unidos) em que a empresa fazia tudo. Esse era o discurso que veio de fora”, contextualiza.
Desregulamentação dos anos 1990 aumentou a terceirização
A terceirização aumentou muito com a desregulamentação dos anos 1990, nos tempos de FHC, e serviu basicamente como mecanismo de redução de custos e precarização do trabalho, afirma o economista. “O país não teve ganhos de produtividade. A partir do ano 2000, com o ambiente econômico mais favorável, houve uma ampliação do setor produtivo. Com empregos não terceirizados entramos em um ambiente de quase pleno emprego nos melhores momentos.”
Ele diz que “a terceirização vem implicando em menos arrecadação para o Estado. É coerente com a proposta de relação direta entre patrão e empregado. Descarta-se o sindicato, não há regulação. É uma volta ao século XIX”, garante Pochmann. De acordo com o pesquisador, os partidos e os sindicatos são vinculados ao mundo industrial, mas estamos numa sociedade de serviços, onde há quase o mesmo tipo de relação existente na sociedade agrária, sem laços.
“A situação não propicia compromissos de médio e longo prazo. É uma sociedade gelatinosa, não converge para absolutamente nada. Veja o exemplo de Campinas, que teve uma base industrial operária. Hoje, 21% do emprego da classe trabalhadora está ligado a dez shopping centers. É o mundo dos serviços”, diz.
Segundo ele, reúne o trabalhador não empregado, mas parceiro ou sócio, que ganha em razão das vendas. “Os assalariados da faxina, limpeza, segurança e manutenção. Os vendedores das lojas de grife, do McDonalds, dos cinemas. Não tem nada que os una, circulam sob o mesmo teto sem diálogo, não são companheiros, não são colegas. O shopping é uma agregação de empreendimentos sem identidade. É a situação pós-moderna, de fragmentação socioeconômica. Muito diferente da situação da fábrica. Os trabalhadores não se conhecem, mas há ali a figura do dono ou do diretor-geral, que define o salário”, resume Pochmann.

Em maio de 2019, trabalhadores pleiteavam a regulamentação dos serviços de transporte por aplicativos / Marcelo Camargo / Agência Brasil
O que é a uberização?
A uberização do trabalho continua mais atual do que nunca. Na era da transformação digital, com cada vez mais avanços tecnológicos e novas ferramentas de trabalho, as relações trabalhistas também estão se modificando profundamente.
Mesmo com o caminhar atropelado da tecnologia, o valor do trabalho neste contexto foi deixado de lado. Hoje vivemos a deterioração das relações trabalhistas nesta modalidade de emprego, em que os trabalhadores não possuem vínculo empregatício com as plataformas que os contratam.
O conceito de uberização do trabalho pode ser definido como um novo modelo de trabalho, que, na teoria, se coloca como mais flexível, no qual o profissional presta serviços conforme a demanda. Ele próprio faz o seu horário e pode trabalhar até 12 horas por dia, sem nenhuma regalia. Esse modelo é defendido por algumas empresas, especialmente as de tecnologia.
O argumento é que ele oferece mais flexibilidade para ambas as partes. Nesse contexto, o profissional seria “o seu próprio chefe” e responsável pelo gerenciamento do seu tempo (ou seja, ele é quem define quantas horas irá trabalhar), diz Ludmila Abílio, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho.
Apesar de o termo ter sido “emprestado” de uma das plataformas mais famosas, a uberização do trabalho não se restringe apenas aos motoristas de aplicativos. Os prestadores dos serviços intermediados pelas plataformas são, majoritariamente, terceirizados. As plataformas permitem, facilmente, que qualquer prestador de serviço, com requisitos mínimos, entre neste mercado.

Os prestadores dos serviços intermediados pelas plataformas são, majoritariamente, terceirizados / Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Hoje, diversas plataformas de tecnologia seguem esse modelo, como Facebook, Instagram e Twitter. Empresas que atuam no varejo, como Mercado Livre, Amazon e Alibaba também. Aplicativos de entregas como Rappi e Ifood, igualmente.
No Brasil, o introdutor do Uber, por exemplo, foi o empresário Guilherme Telles. Ele conseguiu transformar a operação no país na maior do mundo, segundo os números da empresa. Mas até hoje enfrenta problemas, protestos, greves, manifestações, em razão da forma inflexível como trata os trabalhadores da startup.
No início, havia muita briga nas ruas com permissionários dos serviços de táxis. “Depois de alguns anos já não brigamos mais com este pessoal”, diz Amilton Germano da Silva, 67 anos, motorista do ponto de táxi na 24 de Outubro com Bordini, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
“Aceitamos a evolução, voltamos a ter trabalho constante, continuamos com muitas obrigações legais, impostos, tributos, mas nossa placa, que antes valia até R$ 300 mil, hoje não vale quase nada. Muitas exigências para nós e nada para eles”. Amilton diz que muitos colegas taxistas partiram para o Uber ou outras plataformas em busca da sobrevivência, mas nem todos se deram bem. “Tem gente que gosta de trabalhar sem compromissos, sem horário, sem cobranças, mas eu sou diferente. Quero tudo certinho. E a tal história de que os motoristas de aplicativos iriam enriquecer foi puro papo furado”, afirma.
Microempresários?

Pesquisadora alerta que o gerenciamento algorítmico se mostra uma forma de cisão entre o ser humano e a tarefa que ele executa / Marcelo Camargo / Agência Brasil
As milhares de pessoas que buscaram alternativa de emprego e sobrevivência nos aplicativos foram induzidas a se achar microempreendedores, trabalhadores que têm autonomia e sabem o que devem fazer para ganhar dinheiro.
A pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) da Faculdade de Economia da Unicamp Ludmila Costhek Abílio afirma que não foi bem isso que aconteceu. Ela diz que o gerenciamento algorítmico se mostra uma forma de cisão entre o ser humano e a tarefa que ele executa: a eficiência da força de trabalho é potencializada, enquanto o trabalhador tem que arcar, sozinho, com o ônus de garantir a própria sobrevivência.
Ludmila também traz um alerta: é preciso prestar atenção no que é dito pelos trabalhadores submetidos à uberização, sob pena de apagar experiências e trajetórias de vida – e de não ser capaz de propor caminhos em um cenário de crescente precarização da vida de trabalhadores e trabalhadoras.
“Pela minha perspectiva, a uberização não é um processo que esteja exclusivamente atrelado às plataformas digitais e aplicativos. Pelo contrário: a uberização é um processo que se desenha no mundo do trabalho há décadas, e que acaba sendo catalisado pelas novas tecnologias digitais. Porque veja, eu posso pensar em uma série de trabalhadores uberizados que não estão passando pela plataforma. Nesse sentido, talvez nós sempre tenhamos enfrentado elementos que hoje são centrais à uberização. O que acontece é que, por meio das plataformas digitais, você tem hoje novas formas de organizar e controlar essa multidão de trabalhadores. O que a gente está vendo no mundo, quando a gente fala em gig economy, em economia de plataformas, é que esses processos de flexibilização e essas formas de exploração, com características que são tipicamente periféricas do trabalho, estão se expandindo para outras relações onde elas não eram visíveis desta forma”, mostra ela.
Ações judiciais estão paradas
As questões judiciais envolvendo empresas de transporte como Uber, 99, Cabify, iFood, Loggi, Rappi e Uber somam 496 no Tribunal Superior do Trabalho (TST) desde 2019. Os ministros não reconhecem o vínculo, como disse a ministra Maria Cristina Peduzzi. “Não há que se cogitar em subordinação entre trabalhador e plataforma digital”, disse em seu voto.
No seu entendimento, não há vínculo de emprego porque o trabalho desempenhado pelas plataformas digitais não cumpre requisitos da lei trabalhista. Após o voto de Peduzzi, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga sugeriu que os processos sejam enviados ao Tribunal Pleno, para que sejam julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (com a fixação de uma tese vinculante sobre o tema).
Os julgamentos começaram em outubro de 2022 e ainda prosseguem. Estão parados por pedidos de vista. Mas há também processos em estados. No Rio e São Paulo, são 1.048 processos tramitando, mas sem nenhuma decisão, salvo algumas indenizações e raros vínculos empregatícios.
Greves aconteceram nas principais capitais
Desde a implantação dos serviços por aplicativos, principalmente na área de transportes, ironicamente chamados de ‘carona’ no início, sempre aconteceram protestos e indignações, paralisações de serviços, exigências por melhorias e mais direitos. Só durante o mês de janeiro de 2023, entregadores de aplicativos em todo o Brasil realizaram greves e manifestações nas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Rio Grande do Sul, Piauí, entre outros.
Os trabalhadores exigiam, lá atrás e hoje, os direitos mais elementares para exercer a profissão. Em cidades do estado de São Paulo, cansados da superexploração, os entregadores chegaram a declarar greve por tempo indeterminado até terem suas exigências atendidas pelo monopólio iFood. Em Salvador (BA) os entregadores bloquearam as principais vias da cidade em diversos dias. Em Porto Alegre, interromperam o serviço por algumas horas em várias oportunidades, sem conseguir nada.
Entre as reivindicações de todos esses trabalhadores estavam: aumento da taxa mínima paga por entrega de R$ 6 a R$ 8; fim das entregas duplas ou triplas, quando o entregador realiza duas ou mais corridas, sendo pago apenas por uma; seguro em caso de acidente ou morte, já que as coberturas oferecidas pela iFood não funcionam na prática; e fim dos Operadores Logísticos (OLs), que funcionam como intermediários entre os entregadores e os aplicativos e são responsáveis pela terceirização dos trabalhadores.
Os entregadores por aplicativo lutam por esses direitos básicos há anos. Os monopólios de entrega, por sua vez, buscam impedir de todas as formas que os trabalhadores conquistem esses direitos, uma vez que, diante de mais uma crise em escala mundial, os monopólios dependentes de empresas estrangeiras como iFood e Uber, buscam atingir lucros cada vez maiores para escapar da crise.

Entregadores de aplicativos se reúnem em frente ao Congresso Nacional em dia de paralisação / Cristiane Sampaio
O aplicativo Uber, por exemplo, conta atualmente com 50 mil motoristas em mais de 50 cidades, sem contar outras empresas. A sua importância é clara, todo mundo fala em pegar um Uber para isso ou aquilo. Virou mais popular que táxi. Sem vínculo empregatício, os motoristas arcam com riscos e custos, como a compra e manutenção de seus carros, mas precisam seguir regras estabelecidas pela empresa.
Não só no Brasil, mas em vários outros países, há ações trabalhistas que questionam esse ponto básico do modelo de negócios do Uber, que tem paralelo com outras grandes empresas, como AirBnB ou o serviço de entregas com bicicletas delivery. Ex-motoristas do Uber processam a companhia afirmando que há, sim, vínculo nessa relação e exigem o pagamento de direitos estabelecidos pela lei trabalhista. O procurador do trabalho Rodrigo Carelli, do Rio, afirma que, para comprovar vínculo empregatício, motoristas têm de provar que seu trabalho é, de fato, controlado pelo Uber.
Em sua opinião, há vínculo empregatício porque o Uber controla, por exemplo, as áreas em que motoristas devem dirigir, oferecendo bonificações para que se desloquem para um lugar e não a outro. Além disso, a empresa controla o preço pago por cada viagem e não permite que os motoristas negociem diretamente e formem uma clientela própria. Ao abaixar ou aumentar o valor da viagem, o Uber é, ainda segundo sua opinião, capaz de regular, indiretamente, o número de horas que o motorista trabalha para garantir um ganho mínimo.
O Uber afirma, no entanto, que não é uma empresa de transporte, mas de tecnologia, que fornece um aplicativo a motoristas que são empreendedores independentes. Segundo a empresa, não há vínculo empregatício porque os motoristas podem recusar viagens ou determinar quantas e quais horas querem trabalhar. A questão ainda não tem uma conclusão e prosseguem os protestos e a indefinição da Justiça.
Esperança com novo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho / Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula, Luiz Marinho, que assumiu este ano pela segunda vez a pasta, vem afirmando reiteradamente que a ideia é construir um modelo de contrato para os trabalhadores de apps, que não crie um vínculo empregatício, como o previsto na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. “Há trabalhadores que atuam para dois ou três aplicativos diferentes e não querem vínculo. Então, vamos conversar e buscar soluções que garantam direitos”, afirma.
Para Marinho, caso esses trabalhadores possam contribuir para o INSS, com alguma espécie de contrapartida das empresas, por exemplo, poderiam ganhar direitos à aposentadoria, pensão por morte, auxílio invalidez e outros benefícios proporcionados pela Previdência.
O ministro afirma que a proposta já está em andamento no ministério e poderá ser editada, brevemente, uma medida provisória ou ser enviado um projeto de lei ao Congresso para que ocorra uma definição sobre este polêmico assunto. “A diferença é que uma medida provisória vale por 180 dias e tem andamento mais rápido até ser aprovada”, observa.
“Os aplicativos exploram os trabalhadores como em jamais outro momento da história. Eles foram extorquidos em seus direitos, como férias, salário fixo, décimo terceiro, ajuda em equipamentos e assim por diante, e necessitam, urgentemente, de proteção. Cabe aos sindicalistas buscar e lutar por soluções para os trabalhadores, não só na relação com seus patrões, mas na conquista de seguridade social. Esta relação deteriorada precisa ter uma nova visão, não só aqui, mas em todo o mundo”, observa Marinho.
Urgência por soluções
O professor universitário, sociólogo e ex-diretor técnico do Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Clemente Ganz Lúcio diz que as constantes mudanças no sistema econômico estão baseadas nas novas tecnologias e na IA – Inteligência Artificial, gerando, como consequência, transformações radicais nos postos de trabalho e, também, nos requisitos para o exercício da função e nas qualificações e competências das profissões. Estão causando impactos setoriais e laborais extensos. “Há perplexidade com o quadro de falta de proteção aos trabalhadores neste contexto”, afirma. Para ele, é fundamental e urgente que ocorram negociações entre as partes em comum, de acordo com os interesses da sociedade e das demandas coletivas dos trabalhadores. “Precisamos inovar nas propostas e ousar nas iniciativas”, observa.
Outros países garantem direitos
Proteção e mais segurança para trabalhadores de aplicativos já estão garantidos em alguns países. Ainda não são vitórias significativas, mas já demonstram avanços. Estados Unidos (Nova York foi a primeira cidade), alguns países da União Europeia, do Reino Unido e Japão já asseguraram um respaldo a quem faz dos aplicativos o seu modo de garantir a sobrevivência.
Nova York tem 65 mil entregadores, por meio de aplicativos. Eles já ganham um salário mínimo (15 dólares a hora), contam com transparência sobre as gorjetas deixadas pelos clientes, têm licenças oficiais para trabalhar e usar o banheiro dos restaurantes, onde pegam comida. As empresas são obrigadas a fornecerem mochilas de entrega.
Países integrantes da União Europeia estão implantando, ou em período de testes, proposta para que trabalhadores de empresas de serviços de aplicativo tenham direitos trabalhistas, como o estabelecimento de vínculo empregatício.
A regra deve se aplicar a empresas que supervisionam eletronicamente o desempenho do trabalho. A norma restringe o horário de atuação do prestador de serviço, determina a aparência e a conduta do trabalhador diante de clientes e limita a possibilidade de que eles construam suas próprias bases de clientes ou trabalhem para qualquer outra pessoa. Os funcionários de empresas que atendam a pelo menos dois destes requisitos passarão a ter direito a um salário mínimo, férias remuneradas, seguro-desemprego e auxílio-doença.
No Reino Unido, a Uber perdeu contenda na Justiça e, em decisão inédita, precisará conceder salário mínimo, férias remuneradas e um plano de pensões aos mais de 70 mil motoristas do aplicativo dos países da região (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte). A Suprema Corte Britânica decidiu que os motoristas são trabalhadores e devem receber os benefícios a que têm direito como se fossem contratados pelas empresas.
No Japão, o vínculo empregatício dos trabalhadores de aplicativos não está em discussão, e nem oferece garantia a férias remuneradas ou pagamento de horas extras. Apesar disso, as empresas de aplicativo de transporte de passageiros e de entregas concedem um seguro acidente de 13 mil dólares a quem trabalha com aplicativos. Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul estão estudando formas de proteção e garantia para os trabalhadores. Há alguns direitos em fase de implantação.

Estudo apontou que as plataformas digitais brasileiras ou que atuam no país como Uber, 99, Ifood, Rappi e Get Ninjas e outras, não oferecem condições mínimas de trabalho decente / Luiza Castro/Sul21
No Brasil, estudo realizado pela Oxford Internet Institute, em parceria com o WZB Berlin Social Science Centre, apontou que as plataformas digitais brasileiras ou que atuam no país como Uber, 99, Ifood, Rappi e Get Ninjas e outras, não oferecem condições mínimas de trabalho decente, afetando mais de 1,6 milhão de pessoas. A pesquisa foi baseada em cinco princípios de trabalho justo: remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação justa. A partir desses critérios, todos os apps que operam no Brasil obtiveram apenas a nota 2, em uma pontuação máxima de 10.
Por enquanto, como verdade concreta, só há um projeto em andamento no Senado: Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) apresentou em 2021 o projeto de lei (PL 974/2021) que visa conceder direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos, incluindo os que fazem entregas. O projeto pretende incluir na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) o direito a salário mínimo, férias anuais remuneradas por 30 dias e descanso semanal remunerado. O projeto de lei está parado. Não avançou nada em dois anos.
“A uberização é a saída do desemprego por baixo”
Cassio da Silva Calvete, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs, pós-doutorando na Universidade de Oxford (Inglaterra) e especializado na área do trabalho, diz que “a sociedade não pode se conformar com a precarização e a informalidade como um mal menor ao desemprego, porque essa saída cria um círculo vicioso que só leva a mais informalidade e precariedade no mercado de trabalho. A uberização é a saída do desemprego por baixo. É o rebaixamento das condições econômicas e sociais que nos levará ao círculo vicioso e paradoxal de, continuamente, ter que piorar as condições de trabalho para que elas não fiquem piores ainda. É aceitar o péssimo para que não fique horrível. Mas que, no entanto, só vai piorando a situação”.
Para o professor, não se trata de negar os ganhos e as vantagens que o avanço tecnológico traz para os consumidores e para a sociedade. No entanto, assegura que é preciso ter ciência que a não regulamentação ou a forma de regulamentação que será adotada são escolhas políticas e não técnicas. Cada forma de regularização do uso da tecnologia resultará um tipo diferente de distribuição dos ganhos e das perdas.
“Esses ganhos poderão ser apropriados majoritariamente pela sociedade, pelos trabalhadores, pelos consumidores ou pelas grandes empresas monopolistas. O resultado final será definido através da luta de classes, portanto uma construção política da distribuição dos ganhos e das perdas. Só uma construção social negociada e uma regulamentação legal podem distribuir melhor os ganhos e minimizar as perdas”, pondera.
Calvete diz que a única saída que vê para o trabalho por aplicativos é regulamentar e, mais do que viável, é absolutamente necessário. “O discurso dominante tenta fazer crer que a regulamentação é algo ruim porque ela é feita de forma burocrática e engessada por leis feitas por políticos que não entenderiam do tema. Enquanto a não regulamentação ou a flexibilidade seriam boas porque conformaria o mercado de trabalho de forma mais adequada à utilização da tecnologia, como se a tecnologia fosse um deus ex machina que produz a solução ideal para as relações trabalhistas. No entanto, a realidade, é que a regulamentação significa a formulação de normas e leis discutidas pelos representantes eleitos pela população que provavelmente farão uma profunda discussão do tema e levarão em conta os interesses de toda a sociedade na forma de utilização das tecnologias no setor produtivo. Por sua vez, a não regulamentação deixa a utilização da tecnologia ocorrer ao bel prazer das empresas que a implementarão de forma discricionária visando unicamente satisfazer os seus interesses”, explica.
O determinismo tecnológico

Para Calvete, agora a ficha caiu, e os trabalhadores plataformizados perceberam que estão sendo superexplorados / Foto: Carolina Lima
O professor explica que não podemos e não devemos cair no determinismo tecnológico. A tecnologia não determina nada e não impõe nada. A Inteligência Artificial e os algoritmos não pensam, não definem e não dão as sequências. O ser humano é o responsável pela forma de organização do processo de produção, pela sequência adotada nos algoritmos, pela forma de regulação das relações de trabalho, pela forma de organização da sociedade e, também, o mais importante de todos, pelos valores que serão cultivados e apreciados.
“Novamente, mais uma vez e sempre, a luta de classes está colocada. Os detentores do capital aproveitam as novas possibilidades de organização do processo de produção, possibilitadas pelas inovações tecnológicas, e criam novos vínculos, novas regras, novos fetiches para aprofundar a exploração do trabalho e a extração de mais-valia”, analisa.
“Os salários estão diminuindo, os tempos de trabalho estão se tornando ainda mais extensos, mais intensos e mais flexíveis para serem utilizados nas horas, turnos e dias que os donos do capital assim requererem. Neste momento histórico contemporâneo de inovações, o capital busca a ruptura do ordenamento jurídico e social. Após um primeiro momento de uma luta defensiva dos trabalhadores ligados ao movimento sindical e ao mercado formal de trabalho, e um vislumbre de possibilidade de um trabalho digno nas plataformas digitais, já vemos uma grande mobilização dos trabalhadores, mas não é bom esquecer que nos seus primórdios elas se vendiam como sendo de economia do compartilhamento e proporcionavam uma boa remuneração a quem participasse”, relembra o professor da Ufrgs.
Para Calvete, agora a ficha caiu, e os trabalhadores plataformizados (motoristas de Uber, entregadores de motos ou bicicletas, trabalhadores em microtarefas) perceberam que estão sendo superexplorados. “Trabalham jornadas extensas, recebem baixíssima remuneração, não têm direitos e estão submetidos a uma remuneração definida por algoritmos não transparentes. Assim, trabalhadores de todo o mundo manifestam descontentamento e indignação com suas condições de trabalho e começam a se organizar e se manifestar por meio de ações diretas, greves, protestos e ações judiciais”, diz.
O caminho é o diálogo com todos os setores
Calvete acredita que o melhor e único caminho para encontrar construções sociais e trabalhistas para este desafio da uberização é o diálogo amplo com todos os setores da sociedade. “Em todos os períodos onde ocorreram os booms tecnológicos, os capitalistas tentaram aproveitar a introdução das novas tecnologias no processo produtivo, que obviamente impõem uma nova relação técnica para a produção, para precarizar as condições de trabalho, principalmente, com redução salarial e extensão e intensificação do tempo de trabalho”, exemplifica.
“Muitos países já regulamentaram as relações trabalhistas dos motoristas e entregadores por aplicativo, a discussão da falta de transparência e assimetria de informações dos softwares de gerenciamento das relações de trabalho é cada vez maior, sendo a principal preocupação dos legislativos europeus. O trabalho em home office em plataformas, em empresas off-line ou em governos também já é motivo de discussão. Entretanto, falta ainda muito a ser feito, principalmente no Brasil depois do desmonte da CLT e da inação do governo passado para resolução dos problemas trazidos pela utilização das novas tecnologias. Mas creio que os primeiros passos já estão sendo dados e provavelmente acompanharemos o movimento mundial de regulamentação das relações trabalhistas, gerenciadas por aplicativos e pela Inteligência Artificial.”