Primeira mulher trans doutora em história no Brasil, Lauri Miranda Silva não tem dúvidas: "somos minorias das minorias no ensino superior. A universidade pública continua sendo um espaço de estudantes cisheteras/os".
Ela se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e conta que um dos desafios que vivenciou "foi a transfobia da parte de outros discentes". Outra adversidade veio por conta do nome social, hoje seu nome civil. "Eu pedia aos professoras/es e amigas/os que me chamassem pelo meu nome social", recorda.
:: "Somos diferentes em tudo, mas temos que ser respeitadas, respeitados e respeitades" ::
Nascida em Rondônia, estado que mais mata mulheres no Brasil, Lauri relata sua infância como uma das melhores fases da sua vida. Sentia-se livre das preocupações e compromissos complexos do "cistema" (um "sistema cis") binarista. "Várias vezes escutei a minha avó conversando com meus parentes e vizinhas/os dizendo que desde criança eu tinha trejeitos femininos, ou seja, ela tinha consciência do que eu viria a ser."
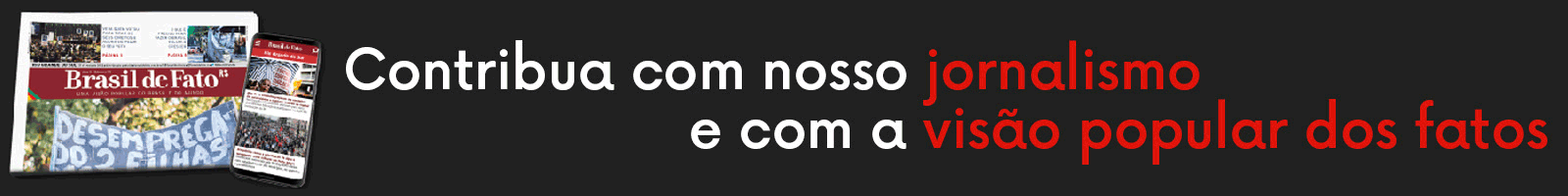
Ao começar a caminhada escolar, sofreu seus primeiros episódios de preconceito. "Sofri racismo por ter cabelo afro e, devido a minha cor preta/negra, era chamada de cabelo de pipoca, cabelo de bombril, cabelo duro, neguinho do Codó, 'Cirilo', pretinho da senzala e outros termos racistas. Na sexta série aconteceu um dos primeiros casos de homofobia."
Em sua tese, "Vozes subversivas e corpos transgressores: memórias e narrativas da (re)existência de militantes dos movimentos LGBTQIA+ e de mulheres contra as opressões interseccionais em Rondônia", Lauri narra um pouco da sua trajetória.
Acompanhe a entrevista.
Brasil de Fato RS – Você é a primeira doutora trans em História no país. Como se sente e como lida com esta condição? Em que medida esta conquista significa um passo também importante para a visibilidade e representação das pessoas trans?
Lauri Miranda Silva – Ainda não caiu a ficha de que sou a primeira mulher trans doutora em história no Brasil. Não foi fácil chegar nesse lugar, tendo em vista as ausências de nossos corpos dentro das escolas, universidades, no mercado de trabalho formal etc., devido à transfobia estrutural e velada nessas instituições.
Ser uma das poucas travestis e trans com o título de doutora é uma grande conquista para mim, bem como é uma porta de esperança que se abre para que tantas outras manas possam entrar e trilhar caminhos no mundo acadêmico.
Ainda não caiu a ficha de que sou a primeira mulher trans doutora em História no Brasil
A universidade é para ser um lugar para todas nós, mas ainda não é. É um espaço ainda classista e cisheteropatriarcal. Precisamos ocupar esse lugar, porque o fato de eu ser a primeira trans doutora em História no Brasil diz muito sobre as ausências de nossos corpos na universidade, sobre a falta de políticas públicas para a população de travestis e trans no país, principalmente no âmbito educacional.
BdFRS – Sua tese “Vozes subversivas e corpos transgressores: memórias e narrativas da (re)existência de militantes dos movimentos LGBTQIA+ e de mulheres contra as opressões interseccionais em Rondônia (a partir da década de 1980 a 2022)” recebeu nota A da banca de História da UFRGS. De que trata, em termos sucintos, e como chegou a esse tema?
Lauri – Esse trabalho é a continuidade de minha monografia de bacharelado em História, em que me dediquei a um recorte histórico sobre o primeiro movimento homossexual em Porto Velho (RO), denominado Camaleão, que surgiu em meados dos anos 1990, no contexto da explosão da contaminação pelo vírus do HIV/Aids. Essa pesquisa monográfica foi realizada a partir de análise documental de atas, relatórios, projetos, cartilhas, folders e imagens coletados no acervo de uma extinta ONG chamada de Tucuxi.
Contudo, não realizei entrevistas com as/os militantes na época, devido ao curto prazo do bacharelado, e, também, pelas especificidades metodológicas do trabalho. Percebi que ficaram algumas lacunas, e elas abriram brechas para a continuidade da pesquisa. Diante disso, trouxe para o campo do conhecimento histórico acadêmico, vozes que ainda não haviam sido ecoadas, ou cujos ecos foram bastante tímidos. Vozes essas que resistem através de lutas, desejos, vontades e sonhos.
É nesse contexto que tenho lutado para salvaguardar nossas memórias e a memória do movimento LGBTQIA+ no estado, contextualizando as nossas trajetórias individuais. Nesse sentindo, percebi a necessidade e a importância de dar continuidade à pesquisa, mantendo-a numa perspectiva de resistência acadêmica com relação a essas temáticas, a fim de contribuir para o debate historiográfico e político em torno das relações de gênero e diversidade sexual na história.
Trouxe para o campo do conhecimento acadêmico vozes que não haviam sido ecoadas
E não somente isso, mas também ampliar as discussões sobre os movimentos de mulheridades e os movimentos LGBTQIA+ situados em Rondônia, um lugar considerado periférico e localizado na Amazônia Ocidental, por perceber que eles têm um “inimigo em comum” – que os faz se apoiarem mutuamente: o "cistema" de dominação que discrimina, exclui e oprime, por meio de diversas formas de violência que atravessam e corroboram para as desigualdades sociais no estado.
BdFRS – Qual o próximo tema que pretende abordar em sua carreira de pesquisadora?
Lauri – Vou continuar pesquisando e escrevendo sobre essas temáticas, pois ainda há uma resistência ao debate sobre esses assuntos nas universidades, bem como uma presença constante de LGBTQIfobia, machismo e racismo estrutural.
BdFRS – Cerca de 70% das pessoas trans e travestis não concluíram o ensino médio e apenas 0,02% dessa população teve acesso ao ensino superior, segundo informações da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). A que atribui essa situação e como superá-la?
Lauri – Somos minorias das “minorias” no ensino superior. A universidade pública continua sendo um espaço de estudantes cisheteras/os, mesmo com a criação de algumas ações afirmativas voltadas à inclusão e inserção de pessoas travestis e trans através do sistema de cotas em algumas instituições federais. Toda essa situação é consequência da transfobia no ambiente familiar quando nos violentam e nos expulsam de casa devido à não aceitação da nossa identidade de gênero e orientação sexual.
Nesse sentido, grande parte de meninas travestis e trans passam a viver em situação de vulnerabilidade social quando não são acolhidas por outras pessoas, restando a prostituição como forma de sobrevivência, pois, como bem sabemos, o mercado de trabalho formal sempre excluiu e estigmatizou pessoas travestis e trans, ou seja, travestis e mulheres trans têm a prostituição como fonte de renda e única possibilidade de subsistência, muito em função da deficiência na qualificação profissional causada pela exclusão social, familiar e escolar.
Toda essa situação é consequência da transfobia na família quando nos violentam e nos expulsam
A gente precisa trabalhar em conjunto com a sociedade a fim de proteger e ajudar na garantia de direitos da cidadania de pessoas travestis e trans, bem como a criação de políticas públicas de inclusão dessa população na escola, na universidade, no serviço público e/ou no mercado de trabalho formal.

"A gente precisa trabalhar em conjunto com a sociedade a fim de proteger e ajudar na garantia de direitos da cidadania de pessoas travestis e trans" / Foto: Arquivo Pessoal
BdFRS – Pelo 14º ano seguido, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2022, de acordo com o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras", da Antra, foram registrados 131 casos. O que, na tua opinião, faz com que isso perdure no país?
Lauri – A falta de políticas públicas no combate à transfobia contribui para que tenhamos os nossos direitos violados, para que vivenciemos em nosso cotidiano a violência transfóbica de cada dia. A lei não é aplicada de forma contundente contra quem propaga o ódio, violenta e apaga nossos corpos, inclusive em espaços que deveriam ser de críticas às discriminações, como a escola e a universidade.
A lei não é aplicada de forma contundente contra quem propaga o ódio e apaga nossos corpos
BdFRS – Por fim gostaria que falasses um pouco da tua trajetória: o que te levou a escolher a História como rumo acadêmico? Houve preconceito na trajetória acadêmica?
Lauri – Narro a minha trajetória na minha tese de doutorado, pois relatar a minha história de vida pessoal e acadêmica é fundamental para quem não me conhece, seja para compreender os meus lugares e posicionamentos de fala enquanto historiadora, professora, pesquisadora, militante acadêmica e mulher trans afroamerindígena, seja também pelo fato de ser nesse cruzamento identitário que eu me (re)apresento, bem como, por questões de representatividade no país que mais mata travestis, transexuais e transgêneras/os negras/os ou pretas/os.
Nasci em 1986 na cidade de Porto Velho (Rondônia). Aos três anos de idade fui morar com os meus avós maternos, negros/pretos e caboclos amazônicos (falecidos em meados do século 21). A minha mãe, mulher negra/preta “analfabeta”, “beradeira’ e cabocla (faleceu em 2011) teve depressão pós-parto e isso contribuiu para que toda a sua saúde se agravasse. Sendo assim, continuei morando com os meus avós que eram evangélicos, devido a minha mãe não ter condições psicológicas para cuidar de mim. Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos em 1994. Não recordo muito bem dele.
Na escola, sofri racismo. Era chamada de cabelo de pipoca, cabelo de bombril
A infância foi uma das melhores fases da minha vida, pois eu era livre de preocupações e compromissos complexos do cistema binarista. Várias vezes, escutei minha avó conversando com meus parentes e vizinhas/os dizendo que desde criança eu tinha trejeitos femininos, ou seja, ela tinha consciência do que eu viria a ser. E realmente, eu era uma criança viada, uma criança que performava o anti-padrão cisheteronormativo no corpo e na alma, uma criança LGBTQIA+.
Na escola, sofri racismo por ter cabelo afro e devido a minha cor preta/negra, então eu era chamada de cabelo de pipoca, cabelo de bombril, cabelo duro, neguinho do Codó, “Cirilo”, pretinho da senzala e outros termos racistas. Na 6ª série, aconteceu um dos “primeiros” casos de homofobia comigo, onde a orientadora educacional culpabilizou a mim pela homofobia que sofri.
Foi na adolescência que percebi que eu era “diferente” dos outros meninos que se encaixavam nos padrões cisheteronormativos. Eu já não gostava mais de estar no meio deles.
Passei a estranhar e a sentir incômodo com meu corpo e com as vestimentas que usava. Quando comecei a usar esses tipos de vestimentas consideradas “não adequadas” para mim, não houve uma recepção tão boa em casa. Falavam que era de “mulher”, que não era roupa para eu usar… Mas como eu estava na fase chamada por muitas/os de fase da rebeldia, eu retrucava, “se eu trabalhei, ganhei, vou usar sim”, e eu me sentia belíssima dentro das roupas mesmo com um aspecto andrógino, metamorfo ou queer.
Sonhar e ter perspectivas de vida me fez e ainda me faz subverter, transgredir, persistir, resistir
Entretanto, foi a partir daí que iniciaram os conflitos e a repressão sobre a minha identidade de gênero e orientação sexual, a LGBTQIfobia nossa de cada dia, presente tanto no âmbito familiar, bem como na igreja evangélica (pois eu a frequentava com os meus avós). Também sofri transfobia na busca de empregos. Foi árduo.
Sonhar e ter perspectivas de vida me fez e ainda me faz subverter, transgredir, persistir e resistir na luta contra esse "cistema" limitado, regrado e repulsivo. Eu percebia desde a minha adolescência que a docência era o que gritava dentro de mim. Eu sempre queria ser a professora nas brincadeiras, mas, às vezes, eu me contentava em ser a aluna, então, a questão do ensinar ao outro vem desde muito cedo.
Quando concluí o ensino médio, comecei a pesquisar sozinha sobre cursos, faculdades e de como ingressar na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Fui muitas das vezes em lan houses, pois eu era uma jovem LGBTQIA+ de baixa renda, e nós não tínhamos computador em casa, então era a única opção para eu usar a internet. Aí averiguei o que queria cursar.
No início, pensei nos cursos de Letras (Português), depois Geografia e/ou História. No entanto, acabei fazendo a escolha certa. Escolhi o curso de História, inspirando-me em uma professora que tive no colegial que ministrava aula de História regional ou História de Rondônia. Ela era ótima, a professora Iraci. Foi através da disciplina de História ministrada pela professora, que fui me reconhecendo enquanto cidadã e formatando meu pensamento crítico da realidade que me cercava. Foi por esses aprendizados que comecei a ter mais respeito pelo outro, e o amor pelo ensino de História.
Não foi fácil para nenhum/nenhuma pessoa trans se autoafirmar no espaço acadêmico

"A universidade pública continua sendo um espaço de estudantes cisheteras/os" / Foto: Arquivo Pessoal
Fiz as provas e passei na primeira e segunda fase do vestibular da Universidade (2006). Nesse período, eu ainda não tinha a concepção de que me tornaria uma mulher trans. Para uns eu era uma travesti, para outros uma bixa no sentido pejorativo da palavra. Não foi fácil e não era simples para nenhum/nenhuma pessoa trans se autoafirmar no espaço acadêmico. Mas cheguei até aqui. A minha inserção nos grupos de pesquisas da UNIR fez com que eu colhesse bons frutos que me ajudaram e auxiliaram na minha trajetória acadêmica e formação para a vida.
Um dos desafios que vivenciei na universidade foi a transfobia da parte de outros discentes. Outro desafio foi em torno do nome social, que hoje é o meu nome civil. Pedia aos professoras/es e amigas/os que me chamassem pelo meu nome social. É claro que muitos acabavam me chamando pelo nome de registro de nascimento e, às vezes, isso me causava certo incômodo. Mas, como não havia ainda respaldo jurídico naquele período em Rondônia, como se tem hoje, das questões do uso do nome social nos registros acadêmicos, eu acabava “relevando”.
As instituições tem que promover pesquisas sobre o direito à cidadania de mulheres e LBGTs
BdFRS – Uma mensagem final?
Lauri – A minha mensagem final é um trecho da minha tese: "Para que LGBTs e mulheres possam viver em uma sociedade não-violenta, é preciso que as instituições, como universidades, associações, escolas, ONGs e demais representações da sociedade civil, continuem promovendo os mais diversos tipos de atividades, discutindo questões sobre, por exemplo, a inserção de mulheres cis e pessoas travestis e trans no mercado de trabalho; o abuso sexual; a violência de gênero; a LGBTQIfobia; o racismo e outras formas de opressões que atravessam nossos corpos. É necessário que essas instituições persistam e promovam pesquisas, debates, atividades educativas, culturais, orientando e informando sobre o direito à cidadania de mulheres e LGBTs no Brasil".





