Estamos experienciando o colapso do sistema. A partir dessa afirmação compartilhamos reflexões, aflições e esperanças sobre um tema que tem gerado “barulho” constante no mundo e em suas diversas instituições, mas refletindo em poucas ações efetivas: as mudanças climáticas.
Estudos apontam que a humanidade está em déficit ambiental. Isso ocorre porque, a cada ano, consumimos em média 70% a mais da natureza do que o planeta é capaz de regenerar no mesmo período. De um lado, há a sua apropriação desmedida, que transforma natureza em mercadoria; de outro, uma produção massiva de rejeitos derivados da mineração, indústria, agropecuária e outras atividades. Como analisa Carlos Walter Porto-Gonçalves, esse processo reflete uma geografia desigual de proveitos e rejeitos, gerando contradições e conflitualidades que se manifestam da escala global à local.
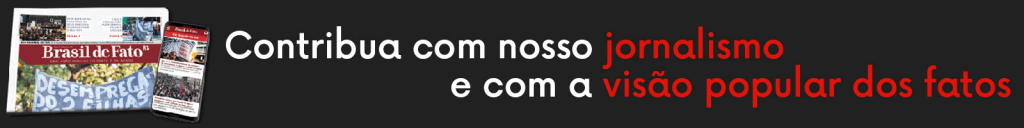
Os compromissos assumidos pelas organizações e nações nos acordos multilaterais têm se revelado pouco eficazes para responder à questão climática e, de maneira mais ampla, ambiental. Evidência disso é o dado alarmante publicado pela Oxfam, de que apenas nos dez primeiros dias de 2025, o 1% mais rico da população mundial já havia consumido sua cota anual de emissão de Dióxido de Carbono, segundo limites estabelecidos pelo Acordo de Paris. Enquanto isso, a metade mais pobre da população levaria mais de três anos para atingir o mesmo nível de emissão.
Medidas “românticas”
Compreendemos que as dificuldades em responder eficientemente à questão climática e ambiental, se justificam, entre outros elementos, pelas relações de poder que permeiam os Estados e instituições, evidenciando a forte conexão entre questão ambiental e política. Também se justifica pelo fato das soluções propostas até o presente momento serem construídas desde a perspectiva do mercado capitalista. Tratam-se de medidas “românticas”, que buscam conciliar interesses em vez de superar o capitalismo, que tem se revelado insustentável. Esse sistema, ao priorizar o desenvolvimento a partir da dimensão econômica (exploração – consumo – lucro) em detrimento das dimensões social, cultural e ambiental, manifesta-se profundamente nocivo à humanidade e ao planeta.
Dessas tentativas de conciliação e de busca por respostas para a crise climática e ambiental via mercado, surgem soluções, no mínimo, contraditórias e condenadas ao fracasso. Um exemplo, é o mercado de crédito de carbono que, em síntese, consiste em uma espécie de “licença para continuar poluindo”, que garante aos países industrializados e as corporações (trans)(multi)nacionais, em grande parte, sediadas no norte global, o direito de cada vez mais obter proveitos e gerar rejeitos, para além dos limites estabelecidos pelos acordos multilaterais. Para isso, os países e corporações compensam as emissões excessivas de gases do efeito estufa, por meio da compra de créditos de carbono. Isto é, da remuneração às instituições e projetos, que desenvolvem ações de combate às mudanças climáticas, mostrando como a lógica financeira e monetária permeia o debate da problemática ambiental na atualidade, sobretudo, nos espaços de governanças.
Outra tentativa que já tem demonstrado insucesso são os projetos de transição energética, a exemplo das hidrelétricas, seguidas das eólicas e placas solares, que vêm sendo implementadas sem consulta prévia ou participação popular na maioria dos casos, o que intensifica conflitos e não garante uma distribuição de eletricidade justa ao povo.
A natureza do capitalismo é incompatível com a sustentabilidade. Apenas o pensamento idealista pode imaginar soluções mágicas e estruturais no atual sistema econômico. Tais ideias só cabem materialmente em artigos de jornais e trabalhos acadêmicos que reforçam o pensamento vulgar (MARX, 2013).
A incompatibilidade do capitalismo com a sustentabilidade é evidente. Primeiro, porque sua essência é a mercantilização da natureza, da força de trabalho e de qualquer elemento passível de ser transformado em mercadoria e gerar lucro. Segundo, porque depende do crescimento econômico infinito, vinculado à expansão da produção, circulação e do consumo – o que implica em uma capacidade cada vez maior de transformação da matéria (ferro, cobre, soja etc.) e, consequentemente, de absorção de rejeitos (Gonçalves, 2012).
O não crescimento, assim como o próprio crescimento, tende a gerar crises nas fases do capitalismo e, como podemos aprender com a história, as crises influenciam na correlação de forças dentro dos governos, nas disputas por hegemonia e nas configurações da geopolítica global. São nos momentos de crise que as ideologias extremistas e negacionistas ascendem, inclusive em relação à crise climática, como podemos observar na atualidade. A manifestação dessas ideologias nos governos, tornam ainda mais difícil o diálogo, o estabelecimento de consensos e o alcance das metas estabelecidas nos acordos multilaterais.
É certo que o Acordo de Paris, uma das resoluções da COP21, bem como, a COP29 e todas as demais COPs (Clima – Desertos, Biodiversidade) passadas ou futuras, são relevantes no espectro conjuntural. Todavia, também são limitadas, pois os interesses dos tomadores de decisão é, primeiramente, preservar o atual modo de produção.
As desigualdades são centrais nesse processo. Populações vulneráveis sofrem primeiro e mais intensamente, tanto com restrições de direitos em momentos de crise, quanto com eventos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul (2023-2024), que deixaram quase 200 mortos, em torno de 1.000 feridos e 2,5 milhões de afetados – incluindo 6.000 famílias camponesas que perderam casas, animais, fertilidade dos solos, plantações e familiares nos vales dos rios Pardo, Taquari e Jacuí.
Desequilíbrios
Como aponta Marques (2023) em “O Decênio Decisivo”, vivemos um período histórico em que o desequilíbrio entre o presente e a carga do passado, faz com as possibilidades de escolha de futura sejam minimizadas diante da maximização das condicionantes do passado, expressando sinais de irreversibilidade, no que se refere a degradação da biosfera e da biodiversidade. Dessa forma, a tendência é que o aquecimento do sistema climático e os eventos extremos (secas, inundações etc.) continuem a se intensificar.
Diante desse cenário, é urgente combinar agendas conjunturais e estruturais. No curto prazo, pressionar por políticas públicas sustentáveis e cumprimento de acordos climáticos. No longo prazo, reconhecer que o capitalismo é incompatível com a vida em suas múltiplas dimensões e escalas, portanto, é fundamental sonhar, lutar e ir construindo condições para uma sociedade para além do capital, baseada em novas relações sociais de produção, sob outra matriz energética.
Em relação a esse ponto, temos muito a aprender com os movimentos e povos camponeses, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A valorização e reconhecimento da ancestralidade dos povos originários e comunidades tradicionais, constantemente negada pela hegemonia, são as melhores possibilidades que o mundo ocidental pode fortalecer para amenizar a crise climática. Mesmo sob ataque, a floresta em pé, a agroecologia e a pesca artesanal são exemplos de resistência e ações eficientes relacionadas às mudanças climáticas.
* Aline Albuquerque Jorge é doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente.
** Gerson Antonio Barbosa Borges é militante do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e doutorando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente.
*** Bruna Gonçalves Costa é doutoranda em Geografia pela Universidade de Brasília (UnB).
**** Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.





