As naturalizações reproduzidas pela ótica da normalidade compulsória são múltiplas. Nesse sentido, se por um lado as construções corponormativas escanteiam pessoas com deficiência, associando a desumanização de suas vidas à culpabilização individual e ao fracasso; do outro lado, a população do campo, indígena e quilombola, seguem sendo dizimadas e constituídas pelo discurso da inferiorização, isto é, aqueles que estão abaixo da ótica normativa.
Nesse sentido, quando aliamos a corporalidade normativa a outras intersecções, como as raciais, desiguais e misóginas que subalternizam tais populações ao despojo, as fronteiras educacionais revelam-se.
Nesses jogos de diferenciação, pessoas com deficiência são consideradas desviantes do modelo mercadológico capitalista de eficiência; e as populações do campo, quilombolas e indígenas, se distanciam do que a compulsoriedade urbanocêntrica considera civilizado, sendo assim inferiorizados, marginalizados e estereotipados.
Isto posto, pensar na interface da educação especial e da educação do campo, indígena ou quilombola é fazer revelar opressões intersseccionais. Entretanto, cabe-nos também, identificar as contracondutas e movimentos antisistêmicos, que fissuram e desestabilizam a norma. Assim sendo, na busca por essas práticas, me deparei com o trabalho interseccional identitário da Escola Municipal Virgília Garcia Bessa, do quilombo Castainho.
Contrariando o contexto normativo da rejeição, as professoras da Escola Municipal Virgília Garcia Bessa, Janaína Camelo de Lima Vila Nova e Maria José da Silva Lopes Martiniano apresentaram um trabalho que subverte a ordem das sujeições e subalternização. Juntas, elas constroem um caminho de ativismo e orgulho, conduzindo uma fresta de luz nas interfaces da Educação Especial e Quilombola.
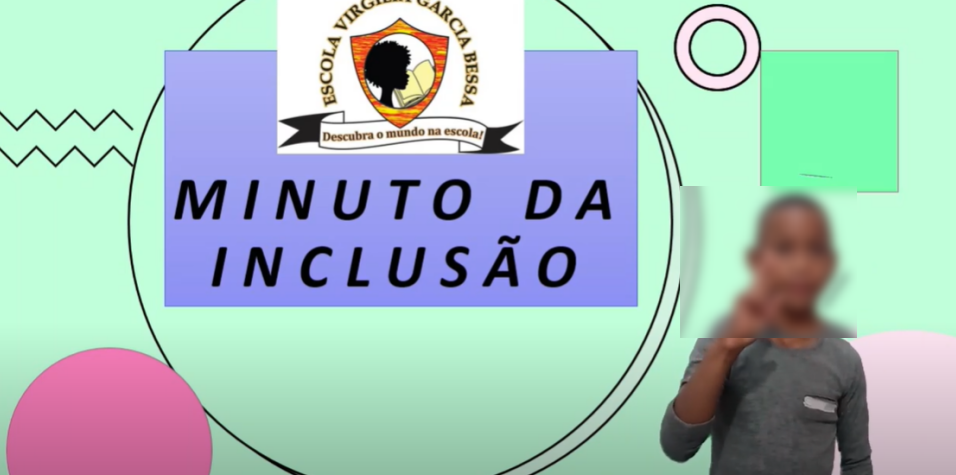
De um lado, a professora quilombola Maria conta a história da sua comunidade, que se funde com a sua, com a compreensão e seu reconhecimento como quilombola, na construção ativista e organizada da luta pela terra. Ela traz para sua sala de aula a história da casa de farinha e as lendas contadas pelos mais antigos, para que sejam passadas às próximas gerações.
Do outro lado, em diálogo, a intérprete educacional Janaína traz essas narrativas para a gestualidade da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e para o aluno surdo a partir da experiência visual. Ele acompanha tais histórias entre línguas, aprendendo a ser comunidade e a construir comunidade.
Na centralidade do diálogo entre as professoras, o estudante quilombola Rudson, surdo, ensina a comunidade sobre ser gesto-visual com a Libras, sobre ser surdo enquanto identidade e que se expressar e entender o mundo a partir das mãos, face e espaço-temporalidade está entre as tantas facetas interseccionais de existir.
O quilombo lembra que a educação popular não clinicaliza a vida como faz a necessidade violenta e urbana, que enquadra pessoas com deficiência em CID (código internacional de doenças) e laudos. A resistência histórica e identitária em construção pelo estudante surdo, em conjunto com o trabalho da Educação Especial, ensinam ao quilombo sobre as múltiplas formas de ser corporeidade quilombola, diante das condições materiais objetivas e subjetivas das línguas gestuais.
As práticas das diferenças que encontrei nesta escola subvertem a naturalização dos discursos e imposições, chamando para as micro revoluções através de uma potente aliança coletiva, impulsionando o olhar de que as diferenças são elos de aproximação e de vida mais coerentes com a nossa história e com a esperança de um mundo melhor.
E falando em esperança, foi esse sentimento de pouco contato que me visitou enquanto estive por lá. Senti esperança. Daquelas que a gente guarda dentro do nosso peito e sai cheia de poder. Esse sentimento que o individualismo capitalista, a partir da precarização da vida, rejeita e nos priva ao acesso, dizimando os que seguem na luta contranormativa. Esperança é contraconduta coletiva e popular e, nesse dia, ela foi guiada por Maria, Janaína e Rudson.




